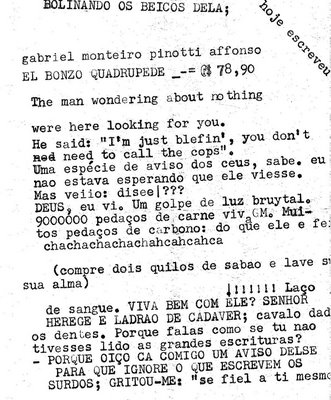Fatos: R. e G. são pacientes em um hospital, fechados em um quarto sem luz artificial, que é iluminado, de dia, apenas por uma janela basculante. Recebem com regularidade visitas de médicos, enfermeiros e outras pessoas. De dia, dormem. De noite, raramente falam entre si.
R. estava de pé ao lado de seu leito, imaginando o que veria se houvesse luz. O quarto de hospital era tão pequeno que nele mal cabiam as duas camas e os animais de pelúcia em miniatura dados de presente, de forma que, para entrarem, médicos ou enfermeiros ou outras pessoas deveriam encostar à parede com força e prender a respiração a fim de se locomover. Eram aparições muito barulhentas (rangiam, derrubavam colheres, esbarravam nos leitos, abriam as portas para sussurros do lado de fora), ouvidas em algum estágio híbrido do sono, o que lhe dava a sensação de que aquilo que se passava era incerto, descartável, um déjà vu dos intrusos e dos pacientes. Os que entravam eram tão despojados e despreocupados quanto às próprias maneiras ali dentro, tão livres de regras, que davam a impressão de que não estavam trabalhando, de que não havia doente algum a esperá-los. Estavam simplesmente fazendo uma visita insone - a invasão de uma propriedade perpetrada pelos próprios donos. Não que rissem, que se portassem como se estivessem no banheiro predileto, fazendo coisas sujas ou imorais. Tinha a ver com a maneira como eles mexiam com os corpos, a não rigidez dos quadris ao andar, os braços largados sobre as coisas, o atabalhoamento irresponsável, o esgar do sorriso idêntico ao de pessoas que falam sozinhas sem aperceberem-se de tanto.
Como as visitas ocorriam majoritariamente à noite, na mais completa escuridão, os visitantes traziam lanternas, que lançavam raios dançantes no quarto até pararem sobre o queixo do que entrava, criando sombras e fazendo seus olhos brilhar. Os pacientes, mesmo estando torporizados pelo sono, perguntavam no começo pela falta de luz, mas raramente tinhas respostas como tais: eram na maior parte das vezes resmungos, barulhos violentos feitos com a boca ou olhares sintéticos, sob a luz das lanternas. Quando R. e G., sozinhos, conversavam sobre alguma daquelas visitas, e isso era raro, dificilmente concordavam com datas e horários, confundiam-se e por vezes sentiam-se ainda mais doentes e cansados devido à tamanha inexatidão sobre fatos tão corriqueiros. Queriam ainda mais dormir, afundar-se nos lençóis, mas o temor que algum dos homens entrasse à noite, em um momento de fragilidade do sono, para lembra-lhes da confusão que aquilo traria no dia seguinte, tornava o descanso uma maneira estúpida de prontidão. Desde que chegara ao hospital, R. pensava, olhando para a mínima fresta de luz sob a porta, não sabia o que era perder a consciência.
Mesmo assim, mesmo estando tanto tempo ali, ele ainda não tinha certeza absoluta de qual era o cargo das pessoas que entravam: os que pareciam enfermeiros, envergando cavidades oculares esplêndidas, perdidos dentro de enormes camisetas, se assemelhavam a móveis de carne quente trazendo água, comida e a muda de roupa. Os que pareciam médicos de ar embriagado (por vezes soluçando ou virando os olhos, quase sempre os fechando longamente antes de começarem a próxima frase, nunca os dirigindo aos pacientes) repetiam os mesmos “bom dia”s e “até logos”s. Percebe-se que a confusão não se relacionava às atribuições dos personagens, mas à maneira como eles as cumpriam. Não havia simpatia ou arrogância, nenhum jogo social. Era um trabalho feito com alheamento. Além de que R. confessara a G. certa vez que desconfiava que o médico que os havia atendido naquela noite tinha um formato facial muito parecido com a de um enfermeiro que estivera ali há duas semanas, bordas de gordura lisa saindo pelos queixos e nariz espremido contra a face. Mas corrigiu-se, quase que de imediato, e com certa razão, que poderia muito bem ser o efeito do sono ou o fato de que não viam outras pessoas a tempo suficiente para terem esquecido mesmo como reconhecer os padrões de um rosto.
Não havia prescrição de remédio algum, nenhum exame: apenas conversas técnicas. R. e G. sempre ouviam calados e atentos, olhando os rostos alongados pela luz sob o queixo, os comentários sobre a doenças da qual sofriam. Eram como palestras iniciais ministradas no final da tarde para uma sala especial, de dois alunos apenas, falas que tinham o baço ou a bexiga ou a uretra como tema principal e invariável – e a friagem e o pé no chão como causas diretas de males fechados em si. Ficavam estupefatos com aquelas coisas saídas de livros, junções de letras criadas por redatores de almanaques médicos de palavras-cruzadas, uma piada interna para historiadores futuros desta ciência. As expressões chamadas de diagnósticos davam medo e faziam rir quando olhadas de perto, quando repetidas após a saída dos doutores; pareciam ocas e independentes, como se fossem pedras escriturais, infectadas e fosforescentes no deserto escuro, zanzando tipo balas nas cabeças dos dois, pedaços de um todo irreconhecível, mas existente: qual é a forma correta de se olhar esse som, essa vibração saída da boca destes homens que parecem médicos? Onde estão suas raízes, pais e mães?
R. e G. tinham dores nas têmporas durante as palestras, não lidavam bem com o fato de que poderiam entender o que havia com eles e que não o faziam pois o que havia com eles...o que havia com eles, os médicos deixavam claro através dos códigos, não tinha muito a ver com eles. O poder que aqueles jovens doutores tinham de falar sobre as únicas palavras que importavam aos dois e, ao invés de colocar todo aquele bolo gosmento e feio e orgânico (possivelmente vivo, mas arfante) em cima da mesa, ao invés de espetá-lo e fazê-lo supurar, de dá-lo em gominhos para os donos digerirem, desenhavam tudo com agulhas de eletrocardiograma. A cada dia R. e G. surpreendiam-se com a novidade do pensamento médico produzido ali, com a criatividade irresponsável criada como arte maior, a cada dia os médicos estacavam no meio dos leitos (lutando a todo momento com o problema do aperto, as pernas movendo-se de quando em quando, parecendo cavalos em baias) e explanavam tortuosamente sobre algo que sob nenhum aspecto assemelhava-se a um problema a ser combatido, e sim com uma recortada/colada velha poesia que tinha aquelas palavras, “baço” “uretra” e “bexiga”, sozinhas em alguma estrofe, piscando como fotos pessoais em calçadas públicas, como sereias.
Por fim, depois de darem pequenas pistas (algo sobre o clima, uma coçada nos olhos que poderia se uma piscadela intencional, um estalo de dedos do tipo “do que falávamos mesmo?”), desligavam as lanternas e terminavam, no escuro, com os mesmos dizeres sobre a eficácia médica de cobertores grossos e chinelos calçados. Eram então artistas arrependidos com o próprio cerebralismo, entediados, que voltavam a uma maneira maternal de dizer as coisas e criavam “a hora de serem reconfortantes e simples”, a volta que se pretendia necessária, depois de estarem a tanto tempo no campo articulado dos incontáveis silogismos profundos. Era agora “a realidade que de fato importava”. E R. e G. esqueciam aquele mundo de coisas duras e pontudas, sentavam-se sobre a relva, sentiam o sol criar imagens quentes sob as pálpebras e pensavam de maneira unívoca, repetindo sorridentes “é isso, então”. Toda a sensação de terem a cabeça recortada, os multiedros rolando pelas palmas das mãos, os vultos formados nos cantos das órbitas – tudo aquilo que a pouco estava no campo do inefável e da angústia, do sono e da incompreensão – desaparecia tal qual a fome depois de vinte cinco bolos de chocolate, soterrado pela iminência de uma solução que era, afinal, a única coisa que queriam enxergar, que podiam ter. Tudo o que precisavam para sair daquele hospital rapidinho era manter os pés aquecidos e as janelas fechadas.
Era só quando a porta se fechava que R. e G. lembravam que uma verdade só poderia ser tão certa quando fosse velha, uma revelação gasta. Tinham esquecido, como era possível?!, que tudo aquilo já havia sido dito, repetido em cada palestra. Lembravam-se da repetição tão fortemente que chegavam a duvidar que aquilo um dia tinha sido novidade. E palpitavam, tinham pequenos espasmos musculares, por um misto de indignação e ansiedade, por quererem que aqueles seres voltassem o quanto antes, por precisarem ser ludibriados mais uma vez com a possibilidade de uma explicação: indignados com a própria ingenuidade e fraqueza, ansiosos por conseguir esquecer esse desprezo posterior às visitas; indignados com a imperícia médica e com a ansiedade de ver tudo aquilo acabado, ansiosos para não precisarem mais sentir os próprios corpos moverem-se sem ordem nenhuma. Sensações causadas por pessoas de identidade fluida, vindas de local desconhecido para agirem de maneira duvidosa, cujas palavras que deveriam os identificar (médico médico médico) eram mais identificáveis do que eles mesmos, envoltos que estavam em outras palavras – as palavras criadas por eles.
As outras pessoas (meninas, não mais do que meninas, de hálito dourado, dentes luzidios) sentavam-se na beirada das camas e cantavam, “em nome de todos aqueles que querem vocês bem, neste e no outro lado, sim senhores”, pequenas músicas à capela, canções de ninar. Elas podiam ser ouvidas antes mesmo de chegarem. No corredor, um trio de felizes colegiais, cada qual com um vestido bucólico diferente, cabelos lisos, negros e curtos presos com óculos escuros quadrados, maquiagem leve na maçã dos rostos, pernas firmes de menina, andando de mãos dadas. Abriam a porta devagar, seis olhos pela fresta que vai aumentando, o facho de luz crescendo dentro do quarto. Não os cumprimentavam. Depositavam o abajur em forma de cogumelo que traziam no canto da sala e davam risadinhas finas e simultâneas, levantando os ombros no ritmo da movimentação da boca.
Lá dentro, com olhar envergonhado pelo aperto, arrumavam bem o tom de voz, faziam gargarejos com saliva. Eram sempre pessoas diferentes fantasiadas da mesma maneira, modelos de um mesmo manequim. Cantavam com a voz aguda, pronunciando muito bem cada sílaba, olhando para as o horizonte das infiltrações das paredes, para as costuras que seguravam os pedaços de cimento e tijolos. Uma vez, R. tentara tocar as pernas nuas de uma, em movimento parecido com o feito quando não se sabe se à frente encontra-se uma vidraça ou apenas ar – nada de pervertido ou velhaco; pura curiosidade. Antes de seus dedos chegarem à pele, ela levantou-se, deu uma pirueta sóbria e lenta para evitar a queda no quarto apertado e, sem parar de cantar – a voz apenas oscilando –, bateu com cuidado nas palmas das mãos das outras, como cheerleader. Por fim, puxou os braços contra o corpo, era o ápice da musiquinha de ninar, e apertou-os em X, amassando o vestido, que delineou seios parecidos com meios ovos de avestruz, enquanto falava sobre “o caminho que crianças sonolentas devem seguir / quando vêem a nuvem de mel se aproximar”. Sentou-se suando, alvo de olhares reprováveis das duas outras, as gotas de suor escorrendo pela lateral do rosto como sangue.
Antes de saírem (e saíam olhando as mesmas infiltrações da parede, pequenos passos para trás, nunca dando as costas para eles), deixavam nas camas, como lembrança, pelúcias pequenas, simulações de animaizinhos de espécie indefinida. Algo entre o urso e o gambá, com patas de crocodilos ou caudas de dinossauros, brinquedos de pelo endurecido pelo tempo que elas tiravam de trás das costas quando abriam a porta, a surpresinha da noite. G. nunca pareceu importar-se com nenhum deles (eram parte do cenário), mas R., em pé em frente ao seu leito, abraçava um deles, um de poliéster puro cheio de bolinhas de isopor, tentando imaginar como eram os olhinhos daquele leão bípede com dentes de algodão que segurava, tocando as bolas duras costuradas na carinha, falando com ele como desejava falar a um dos médicos: sobre sua estranha doença que não tinha sintomas muito claros, sobre o cansaço que tinha ao mesmo mover um braço para se alimentar e da incompreensível dificuldade de se desligar; de como se sentia cindido quanto às atitudes daquelas pessoas e de como nenhum deles parecia sentir que ele de fato estava lá.
R. estava de pé em frente ao seu leito, com os pés dentro de chinelos, e olhava para o que deveria ver pensando que todas aquelas lembranças eram um pouco abstratas demais para serem memórias. Dessem luz, papel e caneta a ele, não saberia desenhar o rosto de nenhum daqueles personagens. Não seria capaz, também, de identificar as vozes que tantas vezes ouvira. O que havia passado dentro do quarto de hospital até então parecia uma história contada a ele por um desconhecido em uma rua nunca visitada. Mas... como era uma rua mesmo? Do que eram feitas as ruas? Sentiu os pêlos do animalzinho sobre peito e falta de alguma canção para niná-lo, para devolvê-lo à posição que estivera por tanto tempo – deitado. Tinha a impressão, ao alisar o brinquedo, que uma das patinhas fofas também o alisava, uma pequena mamãe urso cuidando da prole agigantada e deformada, um ursinho que saiu um pouco diferente dos irmãos sendo reconfortado: esse era R. Os animaizinhos... parados como totens, nunca piscando os olhos, eternamente em alerta, tomando conta de R. Elementos só aparentemente acessórios e destoantes, deixados ali no canto para serem tocados, para que R. e G. pudessem pensar sobre eles, colocá-los em situações hipotéticas, temê-los e adorá-los e, assim, estabelecer uma relação momentaneamente verdadeira com o que os rodeava. Eles não eram memórias, eles não tergiversavam sobre nada, muito menos negligenciavam o poder que tinham. Apenas guardavam um carinho fofo em potencial, uma bomba de afeto sob pêlos sintéticos, à espera que os pacientes esticassem o braço e os trouxessem para si. Um carinho que era o que os funcionários do hospital queriam tanto dizer e demonstrar, mas não podiam por uma lei invisível camuflada de preguiça e descaso, determinação pronunciada há tanto tempo que já fora colocada fora de pauta de coisas a esquecer (se é que era uma questão de esquecer), R. pensava. Médicos e enfermeiros e as pobres meninas fantasiadas – eles tinham esquecido como fazer. Apenas as pelúcias lembravam: os homens estavam envoltos na luz mortiça, as peças de tecido com expressões humanas preferem as trevas, quando tudo é possível, quando não existe limite certo, quando andamos e podemos esbarrar em um cachorro sarnento, num prédio de sessenta andares ou no vazio de um abismo. Médicos e enfermeiros há muito tinham tomado o caminho da luz e da corrupção do esperado, o mundo das doenças necessariamente diagnosticáveis e tratáveis. Tornaram-se invisíveis, memórias repetitivas. Bichinhos poderosos acordavam de seu congelamento e iam, arrastando-se, cortar os fios da luz, acordavam e sugavam a luz que entrava no basculante, deixando apenas o fraco farol cinza sob o quarto. À noite, festejavam o sucesso, um olhando para o outro: estavam levando os pequenos, os doentes, para longe dali, imaginava R.
Foi um desses, o que ele carregava. Foi ele que soou o alarme, pedindo docemente para R. olhar à frente. Ninguém ainda chegara, mas algo interrompia a fresta de luz sob a porta. Quando aberta, surgiu a silhueta de uma mulher alta e troncuda, cabelos compridos, de jaleco. O único indício de feminilidade era o batom, que brilhava como feito de néon, dando a impressão que ela era um borrão carregando um desenho verossímil de boca, saindo de um portal de brancura completa, uma fumaça controlada por contornos humanos, de membros que agarravam a fechadura e fechavam a porta atrás de si, suave. Ficou a alguns centímetros dele, planando.
- Não sou sua salvadora, a boca luminosa disse. Não sou médica ou enfermeira, nem uma dessas putinhas que vêm cantar. É muito importante, antes que eu fale o que é preciso lhe dizer, que você entenda que eu não sou parte do que viu até agora nesse hospital - do que viu até agora. Não lhe será permitido nenhuma interrupção, tenho péssima fluidez verbal e qualquer tipo de pergunta quanto ao que eu já disse pode colocar meu trabalho (que muito lhe interessa, garanto) em risco. Portanto, não fale – nem enquanto explico-lhe essas cláusulas iniciais, entende? Você percebe, pelo meu tom de voz, que não sou ameaça nenhuma à você, isso deve ficar claro. Estou aqui trabalhando, faço isso dezenas de vezes todos os dias e, quanto mais rápido a coisa andar, mais pessoas poderão ser atendidas. Quanto à minha aparência, lembre-se que você mesmo seria incapaz de dizer a quanto tempo está dentro deste quarto, ou mesmo de responder a uma pergunta simples em relação à aparência de qualquer uma das pessoas que aqui entram. Ponha em dúvida seus critérios de julgamento quanto a isso, é o que quero dizer. Se lhe pareço estranha, pode imaginar o quanto seu tom de pele parece estranho para mim – um homem que não vê o sol há mais de... Sim, sou capaz de enxergá-lo e, sim, minha boca é especial, uma encomenda antiga. Foi importante para minha carreira, essa boca. Chamam de luminária corporal focada. Só mostra o que eu quero mostrar – pois vim aqui unicamente para falar. Meu corpo não é visível agora, está tudo escuro mesmo, mas não se assuste. Houvesse aqui uma lâmpada qualquer e entenderia que minhas formas não são dignas de quão assustado você está. Nada que você não tenha visto ou ouvido falar. Olhe para minha boca, se isso lhe tranqüiliza. Ela é bem humana, ao menos. De uma boa safra. Ei! Para onde olha? Onde estou sentada ou como pareço estar sentada sobre o que você imagina não existir não é de fato relevante. Repito: duvide de sua capacidade de julgamento. Seria mesmo certo dizer que esse quarto é do tamanho que você sempre achou que fosse? Que os únicos móveis daqui são essas duas camas? É, essa seria uma boa pergunta – essa e algumas outras. Mas vou poupar-lhe delas. De fato, você logo vai perceber, elas não fazem tanta diferença. Comecemos falando disso que você segura aí nas mãos, esse pequeno bichinho de pelúcia. Não posso dizer que tenha sido um erro do hospital, mas hoje temo que tenha sido um acerto apenas teórico escolhê-los como lembranças. O intuito inicial, ao menos até onde eu sei, era que eles fossem assustadores. Que eles trouxessem à tona aquilo que vocês, pacientes, tão habilmente escondem de nós. Quando pessoas se deparam com objetos dotados de aparência humana, coisas repletas de lembranças de fora do hospital (e cada um de vocês sabem que tipo de lembrança essas brinquedos trazem), os estudos dizem, as pessoas lembram de que existem afetos possíveis. Foi incrível quando se soube que algo tão barato e antigo, tão simples e primitivo, fosse capaz de suscitar algo que há muito eles buscavam, um verdadeiro milagre na contabilidade do hospital. Não tenho a mínima idéia de quem foi a idéia – e quem tem, certo? Acredito que ninguém. Bem, mas os bichinhos traziam esses sentimentos de fora para aqui dentro. Com isso, os pacientes voltavam a sentir a necessidade de querer que outras pessoas olhassem para elas, tocassem nelas, pensassem nelas quando não em contato direto, sentissem-se confusas em relação a quem era essa ou aquela pessoa. Ah, sempre me esqueço de dizer: é isso que entendemos como sentimentos aqui: transformação de identidades alheias. Exemplo didático: se, para você, certa pessoa é algo diferente do que é para, digamos, seu irmão, um dos dois tem sentimentos por essa pessoa. Você nunca teve irmão, claro, isso é uma situação hipotética. É uma coisa meio complicada, especialmente a fase dois do diagnóstico, aquele em que se tenta descobrir qual dos dois é que de fato tem o sentimento. Mas essa não é minha área, apenas recito o manual. O que tinham como certo é que os pacientes passavam a olhar esses bichinhos e ter sentimentos por eles, imaginá-los como coisas que eles não necessariamente eram. Por isso todo aquele teatrinho ridículo das meninas. O segundo momento desse processo era buscar algo, tentar tirar algo desses bichinhos, pegá-los pelas mãos, quem sabe uma lágrima, não é mesmo? Difícil acontecer, devo dizer. E como essas pelúcias não são mais do que objetos inertes, elas não respondiam. E daí deveria chegar o medo, a frustração, o medo de se frustrar com os bichinhos a cada vez que os pacientes os olhavam, a frustração por eles não carregarem nada mais do que...possibilidade, do que uma vontade não realizada, uma ilusão, uma mentira! Você sabia disso, do íntimo parentesco entre medo e mentira? O terror da promessa não cumprida, que é mais menos parecido com uma idéia antiga sobre o medo infantil: a mãe sai de perto e... Era um momento importante do tratamento, estavam todos muito ansiosos pelos resultados. Mas o que temos visto é que – e isso era algo novo – os sentimentos se acumulavam. Queriam medo puro, queriam que vocês tivessem pavor desses olhinhos de plástico. Mas vocês temiam e desejavam e sentiam-se íntimos e ansiavam por vê-los; detestavam a passividade de cada um desses brinquedos e sentiam-se imortais perto deles e tudo o mais. Tudo o mais, mesmo. A coisa se complicou, algumas pessoas da gerência tiveram que, he he, rever seus conceitos, vamos colocar assim, e outras estabeleceram planos de pequenos golpes, tudo em nome dos pacientes, claro, mas pequenos golpes para festejar sobre o fracasso alheio, um cargo acumulado a mais nunca faz mal, além do que ninguém é demitido nesse lugar mesmo - o que, você pode pensar, põe em dúvida esse tipo de artimanha: por que querer chegar a um lugar que você nunca vai perder, não é mesmo? Mas esse pensamento é tão típico de pacientes...Além do que essas picuinhas não lhe interessam. Tentavam, eu dizia, fazer com que vocês sentissem medo, e, com o medo, que tivessem ódio e o que vocês chamam de corpo respondesse a isso e, assim, todos os sintomas aparecessem, como que expurgando os segredos, desvendando os códigos, abrindo essa bendita caixa preta que é um maldito... Ah, mas como vocês, pacientes, são espertos. Como estão à frente de nós! Enquanto todos olham - exércitos de pessoas olhando para vocês em seus leitos, a dormir, fazendo seu trabalho da maneira mais minuciosa que é possível exigir deles, anotando cada sinal que vocês davam, gastando toneladas de lápis, enchendo salas de relatórios - vocês continuam selados, mudos, ignorantes de nosso sofrimento.
Neste momento, a boca, uma imagem fulgorante, bruxuleante, soltando vapor vermelho no quarto negro, como que puxa o bichinho para si. R. sente-se violentado sem seu leão bípede de pelúcia, tragado pela escuridão.
- Esse é o momento de eu intervir; da Boca, é como me chamam nessa ala do complexo, vir falar, uma papo bem simples sobre como as coisas andam pra você. Eles acreditam que você está prestes a sair do casulo, a desabrochar, a sentir que as coisas não são como elas poderiam ser - e a minha presença apenas agudifica esse processo. As anotações sobre você indicam uma variância considerável na idéia de necessidade do que assiste aqui. É algo que chama a atenção do pessoal. Alguns ficam contrariados com isso, tipos que seriam capazes de arrancar o rabo de um bicho só pelo prazer de vê-lo se esforçar para crescer de novo. Outros, em número menor, ficam até entusiasmados com isso, vêem nesse primeiro sintoma uma explosão de possibilidades, cargos a serem criados, o momento de propor novas hipóteses. Eu não represento nenhum grupo, certo? Você precisa saber disso, para que nossa relação, curta, seja realmente proveitosa. Eu simplesmente estou cumprindo o papel de dizer que, finalmente, alguns sintomas apareceram em você, o que é, por um lado, excelente - podemos enfim começar a tratá-lo. De outro, vai exigir uma série de decisões de você. Uma delas será imediata, outras não vão ser feitas agora, terão - tenha certeza disso - um longo tempo para serem tomadas. Outro fato, que não se relaciona com decisão nenhuma: você agora será um médico. Se pensa que isso é um convite, engana-se. É um dado. Nada comparado com uma promoção, nada disso. Isso não é uma carreira. É simplesmente um estágio necessário ao tratamento. Aliás, esqueça os médicos que viu até agora. Eram péssimos pacientes. Viciados, acredito, sem cura. Aí está outra polêmica - algo que nunca deve sair das conversas de corredor, ok?: alguns nunca se curam. Eles param no estágio que você está prestes a entrar, se deleitam com o que se abre a eles e... empacam. Esses que andaram visitando seu quarto, imagino que pôde perceber, não apresentavam o que chamamos de sinais de melhora. Ah, o que eu digo? Claro que você não saberia o que são esses sinais, até por que eles não são aparentes, muito menos para pacientes recém chegados. Mas é importante que saiba, agora que vai se tornar um deles, que aqueles não eram nenhum tipo de exemplo. Naturalmente, isso não é uma unanimidade - e isso, de novo, eu tenho o dever de lhe dizer. Para algumas pessoas, o tratamento seguido por aqueles que lhe atendiam era o mais confortável e eficaz, ainda que mais lento. Não entendo quase nada sobre essa teoria, por isso não vou à frente. Tomo apenas o cuidado de dizer, agora como um conselho: não siga o exemplo daqueles. Não que vocês venham a se encontrar, isso não é possível, mas algo parecido com "boatos" circula, sempre existe uma história que pode plantar-lhe minhocas.
A boca para de se mexer, finalmente. O ursinho faz um estrondo ao cair no chão. Um som fora, uma mesa de vidro estilhaçando-se. G. vira-se na cama, parece ter um pesadelo.
- Chega a hora de fazer meu trabalho. Antes, adianto que essa informação é uma pergunta, uma pergunta muito importante, mais importante do que pode conceber nesse momento, mas que será irreversível e terá efeitos imediatos. Ainda acho incrível que, mesmo hoje, precisemos de fatores duais para irmos em frente, mas vá lá: lanterna ou interruptor, ahn?