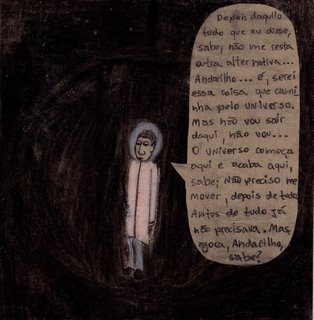Contos, crônicas e novelas.
sexta-feira, fevereiro 24, 2006
quinta-feira, fevereiro 23, 2006
Letícia
Como poderia uma mulher ser mais vadia que Letícia? Como poderia uma mulher, mesmo que existindo apenas como imagem encarnada (você simplesmente concorda que ela é feita de carne, você nunca tocou nela) em um cenário urbano qualquer – mesmo que vista apenas por alguns segundos em um posto de gasolina, na madrugada, andando apressada: não parece estar se divertindo: ela é a responsável, tem suor nos cabelos pintados irregularmente de amarelo que caberiam num tufo apenas e olhos de mãe apartada da cria, de forma alguma escolhida e ainda assim responsável por cuidar de todos que riem e de todos que olham os que riem querendo também rir e de todos os que ainda sairão de trás das cortinas para encostar e entrar em carros empoeirados e foscos (muito usados), para participar desse filme B de diversão adolescente que estourou o orçamento a ponto de não poder sequer pagar as passagens que levariam os atores de volta para casa (ainda sobrou algo para a cerveja e os cigarros cenográficos), de forma que eles parecem estar congelados em algum momento panorâmico do roteiro, em que os papéis de mocinho, mocinha e palhaço, de vilão e de vilã e de palhaço negro, estão turvos – quem visse os rolos perdidos dessa produção poderia muito bem perguntar se afinal alguma dessas representações existiu em algum momento: havia algo de real para ser encenado, todos se movimentando como gravadores donos de membros e articulações, repetindo falas decoradas não pela leitura do texto, mas pela incessante tentativa de falá-las corretamente, resultando em diálogos que, coerentemente, ninguém escreveu? Você concorda que eles não falavam, de fato, nada; que os sons que ouvia podiam muito bem sair das caixas de som penduradas do lado de fora da loja de conveniência. Pois bem, como poderia essa diretora involuntária de um elenco nunca avisado sobre os próprios encargos, ao ir buscar algo a alguém cuja feição e voz você nunca verá (alguém que está sentado no asfalto do canto do posto de gasolina, alguém que parece precisar de ajuda), ao andar apressada pelo cimento cheio de chicletes cuspidos e transformados e confundidos com gotas de óleo, com o amarelo da pele transformando-se com o branco que cai vertical dos tubos de luz pregados atrás das placas de plástico, criando linhas cinza em torno da boca e sombras por um momento monstruosas sob as orelhas – como poderia essa mulher encarnar melhor a idéia loucamente maleável de “vadia”?
Os indícios estão na blusinha branca de alça que lhe parece encardida (a etiqueta para fora), na calça jeans rajada de vermelho, na sandália tão “tropical” de borracha, nos dedos magros, no peito afundado e na bunda enfiada, na cara de gente usada por tantas outras gentes. Mas o que são indícios? Você não sabe explicar o que lhe dá a impressão de uso. Você fica triste quando olha para ela (você sabe o que é tristeza, oras), você sente que nunca precisou viver o que ela viveu – sim, esse tipo de alegria traz tristeza. Você é superior a ela, foi mais vezes feliz do que ela. Você sente que, das poucas vezes que foi acentuadamente carente – todas as vezes que precisou de alguém para sentir que ainda existia, para ser dono de alguém ou ter um dono, para tocar algo – tinha plena consciência de sua situação e que, por isso, nunca se tornaria um cafajeste, um espancador-de-mulheres-e-filhos, uma vadia. Dessa doença você não corre risco nenhum de se infectar. Tem o anticorpo da consciência. E você é tão sabido a seu respeito que até vislumbra que isso é mentira – você lê jornais cheios de entrevistas e livros de psiquiatras e pensadores; você não tem certeza, mas se pudesse arriscar (numa aposta, digamos, com deus), diria que existe sim um lugar em seu corpo mental onde você mesmo, por motivos que desconhece (ainda que estes motivos já estejam catalogados pelos mais discutíveis padrões), esconde memórias de fato e memórias inventadas e cria padrões e relações tão alienígenas a você quanto qualquer uma das incontáveis ciências que existem ou já existiram. Você pensa se esses fatos, invenções e padrões e relações são geridos por uma lógica que fica fora desse lugar (que forma ele teria?) ou se esta lógica vive lá mesmo – até se ela é mesmo uma lógica você já pensou, já que, bem... “É possível organizar aquilo que sequer sabemos a existência?”. Esse tipo de pensamento é que sempre te deixou algum resto de dúvida sobre o inconsciente. E você é tão ponderado que até aceita que a idéia de julgar as pessoas assim (como se tivesse poderes para-psicológicos, de forma abrupta e cruel) é um pequeno defeito a que todo ser humano tem direito, desde que não levada a suas últimas conseqüências.
Mas que tipo de últimas conseqüências podem ocorrer entre você e Letícia? No começo, você nem sabia ao certo se ela era de carne. Agora, ela está lá, de cócoras, passando a mão na cabeça do rapaz de boné. Ele não tem rosto, o dela fica com os olhos pressionados sob as sobrancelhas quando ela alisa o cabelo dele e oferece a garrafa de cerveja que havia ido buscar. Deus, como ela é uma vadia com aquela roupinha e aquela cara de menina pobre cheia de problemas em casa, você pensa. Então aquele escudo baseada na idéia de que “todos os seres humanos têm direito a seus próprios pequenos julgamentos arbitrários internos e mudos” vai perdendo escamas: não apenas porque as espadadas são cada vez mais fortes (as espadadas de uma certeza que é, mesmo analisada por qualquer uma das idéias auto-julgadoras que você julga possuir, cada vez mais nítida), mas também porque, por mais que você conheça a si mesmo e os possíveis mecanismos que regem o modo como você percebe o mundo, você não entende porque escolheu ela. Os outros que ela em um momento pareceu comandar (sim, pois ela era a Vadia, a única que você tinha certeza de carregar uma marca indelével de corrupção e, portanto, não poderia ser outra a pessoa responsável por aquele bando de pessoas amorfas tão diferentes de você, tão responsáveis por tudo aquilo do que você quis se manter longe por ter se mantido tanto tempo tão perto sem nunca se sentir parte integrante (ou nunca ter sido aceito como parte integrante?)) não mais são, (como é que você pensou?), “atores” – ela não dirige mais filme algum. Eles começaram a criar um tipo de vida, eles são pessoas felizes, orgulhosas, com milhares de pequenas realizações, honestas, com toneladas de honra a serem carregadas e esmigalhadas e recriadas, eles tornam outras pessoas felizes, se apaixonam e se decepcionam: eles acordam cedo e se esforçam para alcançar pequenas realizações honestas – os tipos de passos capazes de suprir essa necessidade enorme de honra que cada um deles tem, e para isso se apaixonam e apaixonam outras pessoas, mesmo sabendo que tudo terminará
O escudo perde escamas pois a única conseqüência que pode derivar da relação entre você e Letícia se derivará não de Letícia (aquela feita quase de carne), mas justamente de sua idéia sobre a Letícia e, se você quiser manter seus dedos longe da vileza, da crueldade e da inconsciência sobre o valor moral de cada ato seu, é melhor começar a se sentir mal consigo mesmo (nessa altura você largou o escudo e pegou algum tipo de chicote conhecido): nada como uma boa dose de incontrolável e justa culpa. Você sabe que isso vai lhe fazer bem, que essa auto-flagelação vai servir como purgação para esse emaranhado de sentimentos que agora te agitam. A dor pacifica. Mas existe um problema, porque quão mais perto você está dessas pessoas e mais você vê Letícia, mais elas parecem como você e mais você quer se ver livre delas porque você detesta – sempre detestou, se sentiu mesmo fisicamente mal –entender quem você é: julgar com olhos que se pretendem imparciais sua colocação na imensidão da terra (segue longo blablablá mental com influências que você acredita serem orientais sobre a importância de um grão de areia no deserto) suas origens (de uma banalidade de almanaque) e seus pensamentos (aí é gerado um pequeno paradoxo: como é possível ser tão risível como você acredita ser se você entende muito bem quão risível você é?) era o que mais doloroso existia em sua vida mental. E o problema que se coloca então não é mais o da culpa pela maneira como você julga os outros – Letícia, a Vadia, e seus asseclas – mas sentir culpa por julgar de maneira tão sacana, perversa e desumana a si mesmo.
E quanto mais você conhece Letícia – porque, ah, você se conhece muito bem –, uma dessas meninas que perdeu a virgindade com 18 anos, tem vergonha de falar de sexo e nunca fez anal (mas que ajudou e aconselhou muitas amigas nesse quesito), mais lhe parece que ela foi estuprada pelo dono do mercado (pode ser também o pai, o tio, o irmão, desde que seja mais velho, sujo e um psicótico adormecido), que ela adorava a se masturbar durante infância na frente de pais estarrecidos, que transou com todos os meninos da rua antes mesmo que eles tivessem a idéia de organizar um calendário de revezamento, que já fez 7 abortos desde os 18 anos, que sofreu apenas por um homem (cabem aqui outras possibilidades de traumas incestuosos). Mais ela lhe parece uma mulher que irá lhe prender num cercadinho de látex, te dar mordidas ocasionais no pênis - das mais dolorosas possíveis – e lhe aplicar castigos físicos que arrepiam a espinha mesmo antes de se concretizarem como idéia. Quanto mais você pensa sobre essa menina doce ajudando um amigo ou namorado em um momento difícil – sendo verdadeiramente boa - mais você a imagina vestindo sua camisa larga, dizendo que o ama e, logo depois, em sua imaginação, chupando o pênis de seu melhor amigo em sua própria cama.
Você se pergunta, por fim, porque a chamou de Letícia desde o começo. Depois, se é possível qualquer coisa ser de forma absoluta aquilo que parece.
Talvez devêssemos nos perguntar o que faríamos se o mundo fosse exatamente o que acreditamos que ele é.
terça-feira, fevereiro 07, 2006
O Acidente
Eu ainda não ouvia nada na verdade – os pistões e seus asseclas harmonizavam-se com cada um que povoava as calçadas e faixas e petróleo endurecido da avenida; guiavam suas bolhas de calor e seus dois periscópios ainda embutidos mas já em funcionamento a cada passo com estardalhaço profundo, cego-surdo-mudo e eficiente: todas as incríveis conversas nos celulares e as arrumações cortantes das roupas, os isqueiros trincando e os jornais se abrindo e o ar que eles mesmo moviam com os braços e pernas e troncos e cabeças era jogado de um lado a outro, meio que uma piscina pública e invisível sem bordas à vista ou regulamentação prevista em constituição alguma e era estranho pensar isso, porque alguns olhavam para cima como esperando que o céu tremeluzente azul-claro fosse a superfície e que as nuvens cinza e azul-claras os borrões de pais preocupados com um mergulho demorado demais para filhos tão jovens e ainda com os pulmões em fase de amadurecimento celular. Das janelas das torres, salva-vidas assistiam. E outros talvez imaginassem que até suas sombras faziam algum tipo de barulho porque olhavam para elas curiosos e outros simplesmente estavam parados, inflamando em ondas de calor que poucos aparelhos manufaturados pelo homem até hoje são capazes de visualizar – e mesmo sem ter ninguém para vê-los eles queimavam sozinhos e viravam os pescoços em penitência solitária, imaginando se, quem sabe por um dom fisiológico desses que figuram em livros de medicina datados da época em que ainda se acreditava que não se sabia tudo sobre as capacidades extra-humanas dos humanos, não encontravam os futuros membros de um grupo de ajuda muito específico ainda a ser criado.
Eles pareciam em uma procissão laica. Eles logo estariam em todos os lugares. Um me olhava, quase no fim do horizonte - ele estava na ilha da avenida e de onde eu estava não se via feição, sexo ou preferências de moda, mal se via o vão entre as pernas ou se diferenciava a cabeça do pescoço. Por fim, não era tão maluco imaginar que não havia espaço imaginável que algum dos olhos abertos e fechados não cobria. Ou que existia algum deles que não estava sendo – naquele momento em que vi a menina de cabelos chanel entre o retrovisor esquerdo e a porta do carro-, observado por alguém – ou que qualquer um deles não estava a observar algum outro.
E eles faziam isso tudo em silêncio, como doppelgangers das próprias almas.
Pois essa galera, toda a rapeize, toda ela, era o pano de fundo de um ruído maior. Um ruído ouvido quando algum esticava com os dedos as rugas e olhava no espelho como seria se sorrisse o sorriso que sorria há dez anos, um ruído ouvido quando dormiam flutuando nos céus avermelhadas da cidade e encontravam-se sob estrelas foscas e nenhum reconhecia os rostos fantasmagóricos um dos outros, um ruído que muitos confessaram a padres, irmãos, pastores, psicólogos, psiquiatras, melhores amigos, pais e mães e amantes e maridos e esposas (até a filhos!) ser estilhaçado em diferentes pequenos barulhos que ouviam quando dirigiam ou quando viam a TV ou quando se debruçavam em janelas, um grito ou uma risada ou apenas um bater de bolas de metal gigantescas (isso quando elas não rolavam pela rua), cuja origem, juravam, nenhuma equipe de prêmios nobel no mundo seria capaz de identificar. Alguns mais suspeitos diziam que duvidavam da existência de uma real origem dos barulhos. Da minha parte, sempre os ouvi e sempre achei que, se fossem condensados em algum lugar, esse lugar bem que poderia ser o frágil muro que se estendia por boa parte daquela avenida – ele corria paralelo dos dois lados, e terminava em pequenas casas enegrecidas, quase idênticas, ruínas de uma cidade esquecida ali - onde eu estava com o meu carro parado sobre uma mulher. Seria um grafite animado, com cores delirantes, parecidas com as usadas na pintura desses carros customizados. Ele brilharia mesmo que se abatesse sobre a cidade a absoluta escuridão (precisaria de algum tipo de fonte enérgica independente) e, dependendo dos artifícios tecnológicos, poderia também emitir holografias, imagens em 25 dimensões, a coisa toda – existe o problema adicional de ser necessário proteger os aparelhos geradores da coisa toda de gente muito empolgada com a idéia de levar um pedacinho deles mesmos pra casa, talvez um pequeno posto policial em forma de choupana fosse construído ali e, bem, não duvido se os policiais mesmos se tornassem uma diversão a mais, com os óculos escuros que usariam nas guardas noturnas, surfistas armados e admirados pela bovinice que olham os transeuntes: “essas caras são confiáveis”. E nesse muro, nesse grafite, nessa intervenção urbana pensada por um administrador público maluco não haveria um milionésimo de centímetro sequer livre. Haveria muita gente, gente esgotando os verbos do dicionário, gente que se você fosse contar demoraria 3 gerações e meia. Ele deveria evoluir segundo a mão da rua, de forma que quem fosse passando com o carro poderia ver a impossível evolução de todas essas pessoas fazendo tudo aquilo: pilhas de corpos mortos, como arranha-céus de carne e molho, pisoteados e esmagados (e transportados de mão em mão por sobre cabeças baixas, com sangue grudando nos cabelos dos outros) deveriam se formar nas esquinas de tinta, como monumentos instantâneos e instantaneamente apodrecidos (um pouco de efeito sinestésico cairia bem) em memória da própria multidão; e provavelmente demoraria alguns anos para que algum dos desenhos conseguisse chegar aonde deveria e havia até a suspeita muda e generalizada (entre os rabiscos) de que não haveria oxigênio ou energia ou gente mesmo para todos; quando sonhavam (essa parte era essencial) sobre sua volta por ruas vazias repletas desses sinais visuais ininterruptos de que se está voltando, veriam que seus lares teriam dado lugar a alguma abandonada praça com o nome de seu bisneto morto há séculos – a placa reluzente sob a sombra aracnídea de árvores não podadas e crescidas demais. Ter-se-ia a impressão, ao terminar o trajeto do mural, que todos haviam combinado de sair à rua àquele horário específico, irresponsavelmente, deixando esposas e maridos e mães e pais e vós e vôs e tios e tias e a parentada toda que não viam desde há tempo suficiente para não saber dizer quanto: em casa estavam todos aflitos. E haveria os filhos ignóbeis brincando com a TV e os cachorros e gatos e iguanas e peixinhos-de-aquário roendo ossos e pernas de sofá e toda a comunidade de insetos domésticos que precisava ser alimentada pelas montanhas de restos que aqueles pais e mães de família pagavam com o suor de seus aprendizados rastejaria pelas bordas do mural criando um cinturão como que feito de gás fluorescente - mas apenas de perto se poderia identificar a espécie de cada uma das pequenas manadas, contando, claro, as patas. Esse mural não produziria som algum, mas aposto que nasceriam lendas sobre desenhos que saíram andando dali, desenhos que criam vida e que comentam, para quem suporta vê-los se desfazendo em poças de óleo, sobre o ruído de metal esfregando-se em metal que todos ouvem lá e que todos se perguntam, lá, se não é justamente daqui que ele provém. Nasceriam muitas lendas sobre esse mural. Nenhuma delas faria as pessoas ficarem em casa.
Todas elas – as de carne – agrupavam-se com estranhos, com “coadjuvantes de sonhos”, nessa dança coreografada por sinais de trânsito, leis newtonianas e compromissos, não há dúvida, inadiáveis. Era essa dança repleta, esse coletivo de massas de coisas móveis sobre outras tantas imóveis (essas já pareciam a mesma coisa, a mesma terra e as mesmas pedras que estavam ali antes mesmo de serem moldadas em enormes línguas utilitárias e antes de se equilibrarem como totens sem povo, como dobraduras de gigantes) que me obrigava – que me obrigava a também seguir meu papel – que me obrigava a lembrar das aulas de leitura labial assistida em algum telecurso passado numa tarde, suando sobre um sofá de couro falso, e a olhar pelos vidros do meu carro, para as pessoas que haviam sido retiradas por uma maquinal pata de metal retrátil da dança (era o dever, o dever de se blindar contra o dia em que eles mesmos seriam a vítima assistida) e que agora tratavam de trazer do mangue das lembranças (um interlúdio, não mais do que isso) sua lições básicas de cidadania e acudiam aquele inseto de quatro batas e busto suculento, quase saltando do seu decote “pro trabalho”, que se prostrava sob meu carro como se o apocalipse ainda não houvesse chegado.
Tentei rememorar: ok, o sinal abriu, eu engatei a primeira, eu pisei nos pedais do meu Ford (“alternadamente, isso eu sei”), girei minha direção hidráulica com a ponta dos dedos, olhei para os lados (“nada”) e senti o pneu passar por cima de algo macio. Oh!, então é ali que ela entrava. Por pouco achei que fosse um gatinho, quem sabe alguma criança. Mas a moça já calada, encolhida no canto esquerdo da minha visão, soltando lágrimas visíveis pela incidência obliqua do sol – moedinhas de um país infantil no rosto daquela princesinha de contos infantis-, e as pessoas batendo em meu vidros com os punhos fechados e as sobrancelhas arqueadas em desespero e outras ali na esquina, parando para queimarem sozinhas um pouco, prostradas não exatamente pela moça sob o monte de ferro e plástico sujo de um monte de coisas do meu carro, mas por todos os outros que podiam ver entre a multidão, que por um momento se apartaram dela, por todos os outros que simplesmente estavam ali perto e viram a coisa acontecer, que viram o que aconteceu comigo mas que nem eu tinha visto, por todos que sabiam mais que eles e mais do que eu próprio, pelo magnetismo que a pata de metal retrátil – que era por si uma peça da coreografia, mas que fazia apenas aparições especiais – especiais, sacou? – exercia sobre eles – um magnetismo amoral, gravitacional. As pessoas que olhavam as pessoas me olhando e gritando não tinham idéia do que olhavam, mas sabiam tanto porque faziam aquilo como os comediantes sabem por que falam tal frase em tal contexto em algum dos vários programas humorísticos da TV a cabo nos quais são pagos para improvisar. E nisso passou um carro de polícia pela rua e o policial estava sério, como se tivesse brigado com o motorista, e eles olharam aquela aglomeração e o carona jogou uma bituca de cigarro que ricocheteou na borda da calçada e que quase caiu na água que corria como um rio negro em miniatura – mas que ficou fumaçando o filtro a não mais do que